Em se tratando do mundo do trabalho, reconheço que a experimentação interdisciplinar não raras vezes fornece respostas mais convincentes, nomeadamente quando o propósito é o de averiguar a eficácia de certas políticas públicas, centradas nas promessas constitucionais de realização de um tipo ideal de cidadania centrada no salariado.
O que se oferta aos juristas do trabalho, através deste artigo, são registros de uma pesquisa empírica, ainda embrionária, cuja matriz jurídico-normativa se vitaminou de elementos da abordagem etnográfica, da sociologia e da psicologia social. O resultado que se submete ao escrutínio jurídico pode ser boa referência para uma reflexão, por exemplo, acerca da eficácia da Inspeção do Trabalho no Brasil, nomeadamente no que tange à atuação orientada para a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho.
No Brasil, a política de inclusão das pessoas com deficiência pode ser considerada um marco da intervenção estatal no domínio econômico, pela via da limitação da autonomia da vontade do polo contratante das relações de trabalho assalariado, e constitui uma das primeiras evidências de realização do Estado Social pespontado pela Constituição “Cidadã” de 1988.
Decerto que tal política se materializou pela via da regulação, nomeadamente com a inserção doméstica de norma internacional específica[1] e, mais adiante, através de uma legislação que dispunha sobre cotas (Lei nº 8.213/91), cujo objetivo foi o de assegurar a inserção de PCDs no mercado de trabalho.
Mas a despeito do caráter coativo da reserva de cotas imposta às empresas com 100 empregados ou mais (cf.art. 93 da Lei 8.213/91), a política estatal de inclusão de PCDs, através da garantia legal do direito ao trabalho, jamais se restringiu ao simples ingresso do indivíduo no mercado de trabalho formal. A reserva de mercado era, de fato, um importante instrumento de ação afirmativa, e entre seus objetivos, para além de assegurar a permeabilidade do mercado de trabalho às pessoas com deficiência, se inseria a promoção de uma mudança atitudinal e cultural a partir do ambiente organizacional das empresas, em consonância com um tipo ideal de identidade, dignidade e cidadania subsumidos do princípio constitucional da igualdade real, substancial ou material.
Nesse sentido, o programa de cotas não se destina, tão-só, às pessoas com deficiência, mas a toda a sociedade, na medida em que se propõe a introduzir, no âmbito das relações de trabalho, uma cultura de convivência e aceitação da “pessoa diferente”.
Mas é possível que o caráter predominantemente coativo da política de inclusão das pessoas com deficiência – a “cota de PCD” – tenha obnubilado o conteúdo moral da política de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, deixando visível apenas a obrigação legal. Desse modo, é plausível que o estímulo empresarial para o cumprimento dessa cota diga respeito mais ao receito da coação estatal, do que propriamente o reconhecimento da necessidade de desconstrução dos estigmas que giram em torno da pessoa deficiente.
Se assim for, a política de cotas mostra-se claramente limitada na sua pretensão inclusiva, pois a despeito do recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o monitoramento coativo estatal se restringe ao ingresso do indivíduo no mercado formal de trabalho, isto é, à obtenção de um vínculo contratual de emprego, pouco importando o que acontece com a pessoa deficiente a partir daí.
Desse modo, é importante investigar as percepções da inclusão, a partir das narrativas dos próprios destinatários imediatos da política de cotas de PCDs. Mapear até que ponto reina nas empresas o princípio constitucional da isonomia, no que tange às oportunidades de ascensão profissional. Mais do que isso, e para além do direito, cabe questionar se o advento da “inclusão regulada” das pessoas com deficiência, numa alusão ao conceito de cidadania sugerido por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), foi suficiente, no Brasil, para dar conta da luta pelo “reconhecimento da diferença” (FRASER, 2006). Noutros termos, é o caso de indagar se o mercado de trabalho está preparado para inserir os profissionais portadores de deficiência, a partir de uma cultura da inclusão autossustentada.
Nesse sentido, o artigo visa a apresentar os resultados de uma pesquisa exploratória, de viés compreensivo e multidisciplinar, cujo objetivo é captar possíveis tendências acerca das percepções individuais de inclusão, e contrapô-las a um paradigma teórico a que chamaremos a partir daqui de “inclusão em sentido forte”.
Em que pesem as indispensáveis entrevistas com autoridades locais da Inspeção do Trabalho[2], a pesquisa não se propôs a analisar os mecanismos de inserção de PCDs no mercado de trabalho, mas de averiguar a realidade vivida por pessoas com deficiência já “incluídos”, ou seja, formalmente empregados, buscando captar suas expectativas, no que tange às oportunidades de ascensão profissional.
Do pressuposto de que a política de cotas para as pessoas com deficiência pretende a sua inclusão em sentido forte no mercado de trabalho, deve se considerar que tal objetivo não se esgota no momento em que essas pessoas são contratadas por uma empresa. A depender da forma pela qual as empresas lidam com essa questão, a absorção das pessoas com deficiência pode reproduzir, no âmbito organizacional, as mesmas relações de isolamento e diferenciação in pejus que configuram o estigma do “inválido”.
1. O caráter discursivo da discriminação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: da neurociência cognitiva comportamental ao paradigma teórico de Erving Goffman
Antes de ingressar na análise das percepções de inclusão das pessoas com deficiência detentoras de contrato de emprego, faz-se necessário investigar e explicitar o processo de marginalização laboral do indivíduo deficiente, e tentaremos fazer isso associando elementos da neurociência cognitiva e da vertente interacionista da sociologia, mediada pela psicologia social.
A moderna neurociência cognitiva, quando voltada aos aspectos comportamentais (NCC) e sociais (NCS) (HAASE; CHAGAS; ARANTES, 2009) considera que os processos mentais de compreensão do mundo, a despeito de se lhe atribuírem uma arquitetura lógica, são basicamente estruturados em torno de percepções cognitivas da realidade, e não da captura sensória de elementos concretos apreendidos substancialmente (BALLONE, 2005). Isto é, tem-se a sensação de que as pessoas compreendem e apreendem o mundo tal como ele é, no âmbito de um processo fenomenológico, cujo pressuposto é que os objetos possuem uma dada natureza que lhe seja imanente (MATURANA, 2001). Mas não é o caso, de fato, pois sendo estruturado a partir de uma rede de fluxos sinápticos, o processo de assimilação do mundo não dispensa a mediação dos nossos gabaritos empíricos ou, em termos coletivos, dos modelos e experiências socialmente compartilhadas.
A neurociência também ajuda a explicar a nossa dificuldade de compreender o caos, o acaso, o errático, o aleatório, o desordenado ou fora de lugar. É por isso que nossos processos mentais são deflagrados a partir do conceito de ordem ou harmonia intrínseca, a despeito de sua negação pela entropia[3].
A ordem se mostra em suas várias facetas. Ela pode ser vista em nossas percepções de beleza, perfeição, normalidade, harmonia, paz, justiça etc. A ordem, como um condicionante do processo mental de compreensão do mundo, determina, também, o processo de interação com esse mundo, com essa realidade. Isto se dá porque não conseguimos absorver a imanência de nada, coisas, pessoas, sentimentos etc. Sempre precisaremos de um “pano de fundo”, de um elemento de comparação, de um “padrão”.
A constituição desses padrões é um processo socialmente compartilhado, relacional, discursivo, e que pressupõe a formação de uma rede de interações cognitivas. A contraposição da realidade apreendida por nossas ferramentas sensoriais (audição, visão, gustação, tato e olfato) com os padrões compartilhados socialmente, constitui um processo que, à luz da sociologia, ganha destaque na doutrina interacionista, da qual Goffman é partidário. É dele que se apreende o conceito sociológico de estigma (GOFFMAN, 1988), uma espécie de estranhamento que leva à rejeição dos objetos sociais (leia-se, pessoas) que, durante o processo de apreensão cognitiva, não se enquadram aos padrões constituídos socialmente, sendo, portanto, social e contingencialmente reconhecidos como “despadronizados”.
Goffman, então, traslada o conceito de estigma do âmbito da psicologia social para a sociologia, pois assumindo o caráter cognitivo do processo de construção de estigmas, examina-o sob o ponto de vista dos tensionamentos que emergem das interações (simbólicas) entre os indivíduos que compartilham de determinado modelo discursivo.
Em se tratando de pessoas, essas “despadronizações” são facilmente percebidas como deformidades, sendo certo que a percepção coletiva dessas imperfeições pessoais constitui o ingrediente mais importante para a formação do caldo moral donde surgem os estigmas.
Diga-se “moral”, porque, em sociedade, o estigma não representa apenas uma desconformidade em relação ao que é considerado padrão (ordem). Vai mais além. O estigma supõe que essa anormalidade deve ser evitada, excluída, eliminada, invisibilizada. A anormalidade não é boa; ela é má.
A partir do que é bom, e do que é ruim, damos um passo adiante, ou para o lado, e encontramos outras classificações dicotômicas, como certo/errado, justo/injusto, capaz/incapaz, perfeito/imperfeito etc. Classificar os objetos constitui a etapa final de percepção sensorial do mundo. Mas também é o primeiro momento da sua apreensão racional. A classificação é tão importante para nós, que ela é, ao mesmo tempo, etapa de formação do senso comum, e também das formulações científicas (ALVES, 1981). Em se tratando de pessoas, a classificação ainda tem uma função importantíssima, e que é essencial para a formação da noção de pertença, sendo a base para a construção dos conceitos dicotômicos de familiar/estranho (BECKER, 2007).
O processo de classificação dos sujeitos é reflexivo. Quando classificamos as pessoas, também o fazemos quanto a nós mesmos. Mas esse processo nunca é tranquilo. Ao contrário, ele é prenhe de tensões de todos os lados, sobretudo quando percebemos que não somos capazes, sozinhos, de subverter o padrão segundo nós mesmos somos classificados.
É nesse cenário que Goffman examina as reações de estranhamento e de rejeição do “anormal” sob o ponto de vista sociológico, identificando não só os mecanismos de exclusão, mas também os de defesa dos excluídos. Para o autor, o processo de estigmatização não se dá em relação ao sujeito em si, mas em face do seu papel social, o qual, obviamente, lhe é atribuído coletivamente.
É desse modo, por exemplo, que se firmam certas associações entre as “anormalidades” e suas respectivas formas de reação social. No que tange aos “deficientes” e suas interações no mundo do trabalho, a percepção compartilhada é de desvalor, de inutilidade, de incapacidade.
É óbvio que, por se tratar de um processo recheado de ingredientes morais, há de se levar em conta todo um contexto histórico-cultural. Diante da deformidade física ou psíquica, a sociedade ocidental alternou momentos em que a reação socialmente compartilhada era de medo, de purgação, de castigo, de pena, de solidariedade, de inclusão.
Goffman (1988) afirma que as identidades sociais são construídas em dois níveis: o nível da virtualidade (a forma que assumimos em sociedade, e pela qual desejamos ser vistos e percebidos) e o nível da realidade (a forma que somos, de verdade, e que muitas vezes nos esforçamos por ocultar). As tensões surgem, portanto, quando estas duas realidades estão acentuadamente desalinhadas, e isto acontece quando o contexto sócio-histórico propicia o surgimento de novos (e, muitas vezes, inalcançáveis) padrões de normalidade.
A pós-modernidade capitalista, momento em que se assumem encontrar as sociedades ocidentais, é profícua em criar padrões de excelência, quando se trata do mundo do trabalho. Qualidades como eficiência, criatividade, empreendedorismo, ousadia, rapidez, perspicácia, dentre outras, costumam premiar e explicar a lógica do sucesso, a partir da ideia de mérito pessoal (SANDEL, 2012; PIKETTY, 2014). No entanto, tal lógica parece ocultar um pressuposto que, de fato, contrasta com a realidade, que é a democracia de oportunidades. Segundo tal pressuposto, todas as pessoas possuem idênticas condições de acessar as “portas do sucesso”, algumas mais, outras menos, a depender de certos atributos pessoais considerados inatos. Contudo, a democracia de oportunidades supõe que o esforço para contornar as desvantagens pessoais é o que irá distinguir o vencedor do perdedor. E nesse sentido, o sucesso depende do quanto se está disposto a persegui-lo.
Mas é possível aproveitar o pressuposto da democracia de oportunidades para entender o sucesso, ou insucesso das pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Será que o contexto social sedimentado a partir do conceito de normal/anormal pode ser realmente abstraído? As pessoas com deficiência não se firmam no mercado de trabalho porque elas, de fato, não querem?
Essa é razão pela qual se optou pelo aporte teórico oferecido por Goffman. A partir dele, constituiu-se um conceito provisório de “inclusão em sentido forte”, a inclusão que inclui, ou que é autossustentável. Aquela que, ainda que justificada pelo advento de um “novo espírito capitalista” (BOLTANSKY; CHIAPPELLO, 2009), que impõe a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho como uma evidência de boa governança, se mantenha e se autorreproduza por uma força que não seja, tão-só, o medo da coação estatal.
2. Mercado de trabalho e inclusão em “sentido forte”
Na opinião do Chefe do Setor de Inspeção do Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Volta Redonda (GRTE/VR): “Nem a perspectiva assistencialista, tampouco a visão normativista podem dar conta de um processo autossustentado de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”. Para ele: “O Brasil, ainda se está muito longe de uma cultura de inclusão”.
Decerto que o contexto da declaração da autoridade estatal situava-se na percepção da eficiência da Inspeção do Trabalho, no que tange à execução da política de cotas, o que permite supor a influência de diversas variáveis (estruturais, políticas, jurídicas etc.). Mas o que nos interessa aqui é detectar que o próprio sistema de fiscalização estatal (DAL ROSSO, 1996) identifica a existência de um tipo superior de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho: a inclusão autossustentada.
Com o incremento da pressão estatal pelo cumprimento das cotas de PCDs, o Sistema de Inspeção do Trabalho foi mobilizado, obrigando as empresas a tomarem certas medidas para atender à lei.
Entrevistado, conta o Chefe do Setor de Relações de Trabalho da GRTE/VR que uma das alternativas cogitadas por algumas entidades de apoio às pessoas com deficiência foi a terceirização do cumprimento das cotas, através dessas mesmas entidades. A estratégia se resumia a manter vínculos empregatícios com pessoas portadoras de alguma deficiência física ou mental, sem, contudo, integrá-las à estrutura organizacional da empresa contratante. Neste caso, apesar de formalmente contratadas por empresas obrigadas ao cumprimento das cotas, esses indivíduos permaneceriam alijados do processo produtivo, da cultura corporativa e do trabalho dividido e organizado coletivamente. O trabalho realizado pelas pessoas com deficiência iria ser executado no âmbito das próprias entidades filantrópicas (que providencialmente resolveriam seus próprios problemas de mão-de-obra), mas assalariadas pelas empresas.
Ainda segundo o chefe do SERT/GRTE/VR, a lei de cotas não exclui expressamente tal possibilidade, isto é, que as pessoas com deficiência possam trabalhar fora do ambiente da produção do seu próprio empregador. Contudo, tal iniciativa apenas reproduz a lógica da inclusão-que-exclui, pois as pessoas com deficiência, ainda que vinculadas à empresa contratante, se manteriam anônimas e “alterizadas” (GUSMÃO, 1998). Mais que isso, que a invisibilidade dessas pessoas impede que se formem mecanismos relacionais de aceitação, de valorização e de mudança cultural em relação ao outro diferente. Por fim, que o isolamento das pessoas com deficiência do âmbito organizacional sugere que a empresa não é o lugar dessas pessoas, que aquele espaço não lhes pertence, pois o ambiente da produção é reservado às pessoas capacitadas, logo, “normais”.
A inclusão em sentido forte significa, portanto, que a inserção das pessoas com deficiência se converta num processo de transformação para além da porta da empresa, ou seja, para além do cumprimento das cotas.
Segundo publicação do Ministério do Trabalho e Emprego (2007), existem vários desafios a serem enfrentados, no tocante à inclusão das pessoas com deficiência. Começando pelos argumentos recorrentes apresentados pelas empresas, invocando a baixa escolaridade e qualificação dessas pessoas, o tipo de atividade exercida pela empresa, cujo ambiente de trabalho seria muito inseguro, ou mesmo os custos de adaptação da estrutura e dos espaços de trabalho, circulação e vivência.[4]
Do lado das pessoas com deficiência, o sistema de assistência social lhes proporciona um benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo integral, desde que o indivíduo seja integrante de um grupo familiar, cuja renda per capita seja inferior a ¼ de um salário mínimo. Tal benefício é incompatível, contudo, com o assalariamento decorrente de um vínculo formal de emprego. E é por isso que muitas pessoas com deficiência fazem uma conta básica, entre não trabalhar formalmente, e ainda ser remunerado, e trabalhar mediante baixos salários (eis o problema da qualificação). A decisão, em muitos casos, é pelo trabalho informal, a fim de que o benefício assistencial não seja suspenso[5].
A inclusão em sentido forte implica, portanto, em oportunizar às pessoas com deficiência não apenas o ingresso formal no mercado de trabalho, através de um vínculo subalterno de trabalho assalariado, mas também a experiência de compartilhamento das mesmas expectativas, do tratamento, das oportunidades, inclusive de qualificação e de ascensão profissional. Trata-se de uma inclusão ditada por uma ética não apenas funcionalista, mas inspirada pelo princípio categórico da dignidade da pessoa humana.
O que se pretende, a seguir, é reproduzir as narrativas de um grupo de pessoas com deficiência devidamente integradas ao mercado de trabalho e, de certo modo, interpretar suas percepções acerca do conceito que ora se apresenta, o de inclusão em sentido forte.
3. O recorte empírico
Entendendo que a pesquisa empírica seria de suma importância para dar consistência ao trabalho, optou-se, de início, pela ferramenta quantitativa, o que rapidamente se mostrou inviável, em razão do tempo para a sua realização[6]. A alternativa foi, então, a pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas, cujo objetivo foi a captura de narrativas que dessem conta do modo pelo qual os trabalhadores com deficiência percebem sua condição e o seu lugar no mercado de trabalho. Neste caso, a foco da pesquisa não está na inclusão formal da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas na forma pela qual ela é tratada, após ter obtido o emprego, tendo como pano-de-fundo o tratamento dispensado aos demais trabalhadores “normais”, e como referência o evento “promoção” ou “ascensão ou enquadramento” funcional.
A amostra é pequena, modestas dezesseis entrevistas, e limitada geograficamente a alguns municípios do Vale do Médio Paraíba (Barra do Piraí, Piraí e Volta Redonda) do Estado do Rio de Janeiro. Porém, sua heterogeneidade (sexo, grau de instrução, características da empresa etc.) permitiu identificar evidências de um perfil médio de trabalhador deficiente, a partir da observação de alguns discursos recorrentes e do cruzamento das respostas do questionário.
Como dito, procurou-se, de início, heterogeneizar a amostra de entrevistados, incluindo homens e mulheres com diversas formações. Mesclaram-se também os ambientes de trabalho, incluindo empresas de vários portes, estruturas e organizações.
Quanto às deficiências, a amostra foi monotemática: limitações físicas-motoras. Tal característica tem interesse por si só, pois não sendo intencional, a entrevista em si revela uma característica já documentada, em se tratando da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: a predominância da deficiência motora, em relação à sensorial, à estética, e às relacionadas às disfunções de ordem psíquica (GOYOS; ARAÚJO, 2006).
Outro cuidado que se teve, em relação ao que se nos mostrou como uma “resistência” das empresas ao franquear o seu espaço – mas que acabou sendo uma tática de “resistência do pesquisador” – foi mesclar entrevistas feitas no âmbito do local de trabalho, com outras feitas em ambiente “neutro”.
Pode-se adiantar, contudo, que tal precaução não se mostrou relevante, pois não se observou qualquer indício de que o controle do local da entrevista tenha afetado a sinceridade das respostas. O formato de survey, a respeito das questões que facilitassem o uso da ferramenta da indução analítica (IA), permitia a obtenção de respostas sem que houvesse a verbalização da pergunta (o questionário podia ser entregue ao entrevistado), de modo que o trabalhador sempre podia usar o seu tempo livre para responder às perguntas, sem a observação do patrão.
Abaixo, um quadro em que se vê a ocupação de cada entrevistado, e seu tempo de serviço na empresa onde atualmente trabalha.
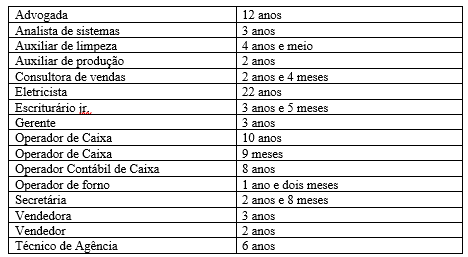
O quadro abaixo mostra as categorias ou predicados da pesquisa, e o número de ocorrências na amostra:
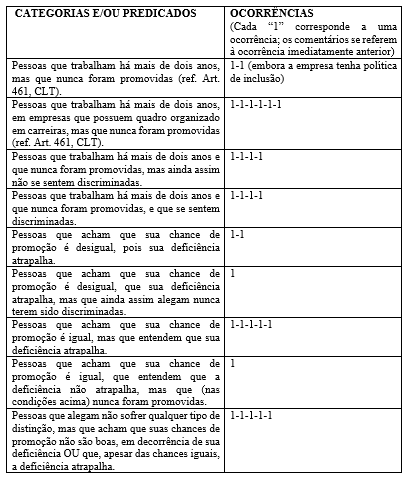
No universo pesquisado, constatou-se que as vagas de emprego foram preenchidas através de contato direto, ou com a ajuda de amigos (houve apenas um caso em que a própria faculdade [de direito] encaminhou a proponente). Isto sugere que, ao menos com relação à amostra, não há uma política de recrutamento agressivo (sites, classificados, redes sociais etc.), seja por que motivo for (política de responsabilidade social corporativa, coação estatal etc.). Noutros termos, que as empresas não se mostram proativas, no que tange a captação de trabalhadores com deficiência, pois praticamente todos os trabalhadores entrevistados obtiveram sua colocação por esforço próprio.
Do total de entrevistados, mais de 30% têm a percepção de que são discriminados, sendo que, deste universo, 80% informaram nunca terem sido promovidos.
Apenas dois entrevistados têm menos de dois anos de contrato. Tal resultado era, de fato, esperado, pois uma de nossas hipóteses secundárias é a de que o trabalhador deficiente é, antes de tudo, um “cotista”. Para a empresa, perdê-lo implica em adquirir um déficit com a legislação inclusiva, que só pode ser superado pela substituição por outro trabalhador deficiente com qualificação semelhante. Portanto, é de se esperar que o trabalhador deficiente goze de uma relativa “estabilidade”, em relação aos trabalhadores ditos “normais”.
Considerando a categoria teórica inclusão em sentido forte (autossustentável), adotou-se a ocorrência de promoções ou ascensões ocupacionais como indicador de integração à dinâmica de valorização funcional do empregado. Nesse sentido, dos que possuem dois ou mais anos de trabalho[7], 57% dos entrevistados informaram nunca terem sido promovidos, embora apenas metade tenha a percepção de que são discriminados.
Dentre os entrevistados, dois trabalhadores acham que suas chances de promoção são desiguais, e associam tal desigualdade à sua deficiência. Contudo, apenas um deles tem a percepção de que é discriminado.
Dos entrevistados, 48% têm a percepção de que sua deficiência atrapalha na hora de ser promovido, embora 30% desses acreditem que, a juízo do patrão, suas chances de promoção sejam iguais.
Entre aqueles que têm a percepção de que sua deficiência atrapalha no momento da promoção, mais de 70% informa que a empresa não adota qualquer política de distinção entre trabalhadores “normais” e “deficientes”.
Das pessoas que têm percepção de que são discriminadas, 60% tem relações regulares, ruins ou péssimas com seus chefes. Nenhuma dessas pessoas alegou ter relações regulares, ruins ou péssimas com seus colegas.
4. A análise: os vestígios de um padrão discursivo
Um dado concreto é que pouco mais de 30% dos trabalhadores com deficiência entrevistados percebem algum nível de discriminação. Em termos fáticos, 80% desse grupo possui mais de dois anos de vínculo empregatício, e mesmo nos casos em que a empresa tenha plano de cargos e salários, jamais foram promovidos. Convém observar que nos casos de empresas que não possuem quadro organizado em carreiras, ou plano de cargos e salários, a questão da promoção nem sempre é tratada com racionalidade, transparência ou equidade. Contudo, quando possuem, as promoções e ascensões são programadas, e constituem uma regra geral de progressão funcional. Nesse sentido, é preocupante constatar que do total de trabalhadores com deficiência sem promoção, 75% dos casos contemplam empresas com plano de cargos e salários ou quadro organizado em carreiras. Tal número sugere uma alta probabilidade de preterição, ainda que seja no momento de ofertar o acesso aos atributos da ascensão, como qualificação e treinamento.
Apesar da ausência de promoção ser uma evidência muito representativa da discriminação, de todos os que, nas mesmas condições, não foram promovidos, apenas 50% se sentem discriminados. Logo, para o universo de trabalhadores deficientes não promovidos, apenas metade relaciona o fato de não ter sido promovido como uma possível discriminação.
Pode-se acrescentar, ainda, que menos de 20% dos entrevistados acreditam não possuírem as mesmas chances de promoção, e que as chances reduzidas são consequência da deficiência. Mas 1/3 desse grupo, a despeito de acreditarem que as chances de promoção são pequenas, por causa da sua deficiência, não consideram que tal percepção seja evidência de discriminação. Mais de 30% dos entrevistados não acham que as chances de promoção são reduzidas, mas aceitam o fato de que a deficiência os atrapalha no momento de consegui-las.
Considerando todos os dados levantados, foi possível chegar a algumas percepções importantes.
A primeira é que a relação entre percepção da discriminação e ausência de promoção ou ascensão profissional, no âmbito da empresa na qual o trabalhador deficiente trabalha, parece bem estabelecida, uma vez que 80% dos trabalhadores que se percebem discriminados também não foram promovidos dentro de certos prazos e condições razoáveis. Contudo, nem todos os não promovidos fazem qualquer associação deste fato com a discriminação no ambiente de trabalho. Em verdade, apenas metade dos não promovidos se sente discriminada.
Outra observação interessante é a percepção das dificuldades de promoção relacionadas à condição de deficiente. Muito poucos (aproximadamente 19%) atestam que a deficiência coloca o trabalhador em desigualdade com os demais, na hora da promoção. Mas dos 81% que entendem que não há desigualdade entre eles e os demais colegas “normais”, cerca de 30% acha que a deficiência ainda assim dificulta a promoção. Por outro lado, o mesmo número de trabalhadores acredita que a empresa onde trabalha age com isonomia, em relação aos trabalhadores deficientes e os trabalhadores “normais”, embora considerem, como no caso anterior, que a deficiência dificulta a promoção.
Tal resultado, antes de ser considerado contraditório, é revelador, pois evidencia que para 30% dos entrevistados a deficiência não é um elemento que, por si só, desequilibra a balança da igualdade, no que tange à possibilidade de promoção, desde que o trabalhador deficiente empreenda esforço extra para o fim de atender às expectativas que decorrem dessa “igualdade”[8]. Ou seja, que as dificuldades para ser promovido são inerentes à condição de trabalhador deficiente, e que o esforço para se superar é legítimo e necessário, caso o trabalhador deficiente queira ascender na empresa.
A pesquisa também revela que, para metade dos “preteridos” na promoção funcional, tal fato (a preterição) não é sinônimo de discriminação. Considerando que apenas dois entrevistados acham que a empresa estabelece alguma distinção de tratamento no sentido positivo (de reforçar internamente o preceito da igualdade de tratamento), e que os demais (em torno de 87%) acham que não estabelecer qualquer política já é, por si só, sinal de ausência de um ambiente de discriminação, conclui-se que é forte a “internalização da condição de deficiente” como um atributo limitador da ascensão funcional, mas que é dever do empregado superar tal condição, sem exigir que a empresa faça isso por ele.
A maioria dos trabalhadores deficientes não associa a falta de chances de promoção como ausência de política efetiva de inclusão por parte das empresas, pois a naturalização das desvantagens, associada a uma certa acomodação do trabalhador, explicaria a falta de acesso às promoções. Logo, para metade dos trabalhadores “preteridos” na promoção, a deficiência é, de fato, um fardo, mas que é exclusiva do trabalhador a obrigação de carregá-lo.
Portanto, pensar em inclusão em sentido forte, é pensar não apenas numa mudança de cultura das empresas, no sentido de implantar – de fato – uma política interna de inclusão, mas também dos próprios trabalhadores deficientes, na medida em que a naturalização da sua condição lhes impõe a obrigação de reconhecer que as dificuldades são normais, e que o sucesso profissional, para eles, demandará esforço extra. A lição meritocrática está presente, pois aquele que não se esforçar (mais) não poderá reclamar que foi preterido das oportunidades de ascensão. E isso parece se confirmar com a percepção de aproximadamente 62% dos entrevistados, os quais entendem que o maior desafio da inclusão é, realmente, conseguir um emprego. A partir daí o que vier é lucro.
Considerações finais
Como dito alhures, a presente pesquisa é exploratória. Uma pequena sonda que se introduz no mundo do trabalho para examinar um tipo específico de inclusão social da pessoa com deficiência. Introduz-se esta sonda num espaço inalcançável pelas políticas públicas inclusivas, visto que estas se baseiam na coação estatal pelo cumprimento de cotas, cuja medida satisfativa é a mera contratação empregatícia.
A proposta, no entanto, é examinar o que acontece para além dos umbrais da empresa. Isto é, saber se a contratação da pessoa com deficiência é representativa de um tipo subalterno de inclusão, sendo pouco significativa, portanto, quando se invoca a “inclusão em sentido forte”.
Observaram-se, então, evidências de que grande parte das pessoas com deficiência entrevistadas, que se declararam discriminadas, atrelava tal discriminação ao fato de não serem tratadas da mesma forma que seus colegas “normais”, em termos de oportunidades de promoção e qualificação. Ao mesmo tempo, apenas metade dos indivíduos preteridos dessas oportunidades se sentia discriminada por isso.
A melhor explicação para essa constatação é a que invoca o fenômeno da naturalização da condição de deficiente, como um traço inerente à sua individualidade, e que a diferencia negativamente dos demais trabalhadores em disputa por espaço no mercado de trabalho. O insucesso que se lhes possa ser atribuído é percebido, no mais das vezes, como natural e “justo”, sendo certo que, para metade dos entrevistados, a empresa nada tem a ver com isso.
A política de cotas se limita a produzir resultados até o momento da inserção da pessoa com deficiência no mundo (formal) do trabalho. A partir daí ela é absorvida pelo discurso da eficiência e da capacidade, da mesma forma que os demais trabalhadores, reproduzindo a lógica meritocrática, que atribui unicamente ao próprio trabalhador o ônus do seu insucesso profissional[9].
A pesquisa também mostrou que a maioria das pessoas com deficiência integradas no mercado formal de trabalho, naturalizadas da sua condição “anormal”, assimila e reproduz o entendimento de que a concessão que se deve esperar das empresas é a oportunidade de emprego, nada mais. É de se supor, com isso, que a possibilidade de que adaptações estruturais, ou de processos, como condição de permitir à pessoa com deficiência galgar os passos da ascensão profissional na empresa, não seja, de fato, considerada. É possível, ao invés, que a pessoa deficiente incorpore esse ônus a mais em seu rito de passagem, evidenciando que elas, mais do que as pessoas “normais”, estão sujeitas a critérios de avaliação de mérito muito mais rígidos.
Trata-se de uma realidade que, no nosso entendimento, não se supera tão-só com políticas públicas baseadas em coação, mas na consolidação de uma cultura de inclusão que esteja, decerto, para além do discurso autorizado pela ética e responsabilidade social corporativa.
A pesquisa traz evidências claras de que um processo de formação da cultura da inclusão, pela via da coação legal, não parece ser o meio mais eficiente, pois a internalização das dificuldades decorrentes da deficiência, acompanhada da percepção da maioria dos trabalhadores de que a neutralidade das empresas já é, por si só, uma conduta não discriminatória, redefine o “papel” da empresa nesse processo, como se não lhe coubesse qualquer outra atribuição, a não ser ofertar o emprego.
A evidência que segue forte é a de que o trabalhador deficiente ainda é visto como um cotista; uma concessão do capital imposta pela lei. A inclusão no sentido forte parece ser, ainda, uma realidade distante, pois quando se trata de oportunidades de crescimento profissional, os trabalhadores com deficiência, salvo quando se “normalizam”, são, geralmente, excluídos do processo, devido à falta de acesso a treinamento e qualificação.
Descubra mais sobre Artrite Reumatóide
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
































TENHO ARTRITE REUMATOIDE, TENHO DIREITO AO EMPREGO PCD ? QUAL O NUMERO DO CID ?
Karrel o Cid da sua doença deve ser informado pelo seu médico. Sobre o direito a emprego pela vaga da lei de cotas, as pessoas que tem artrite tem sim.